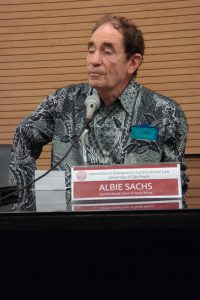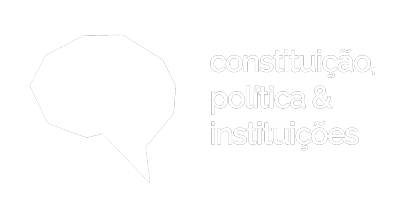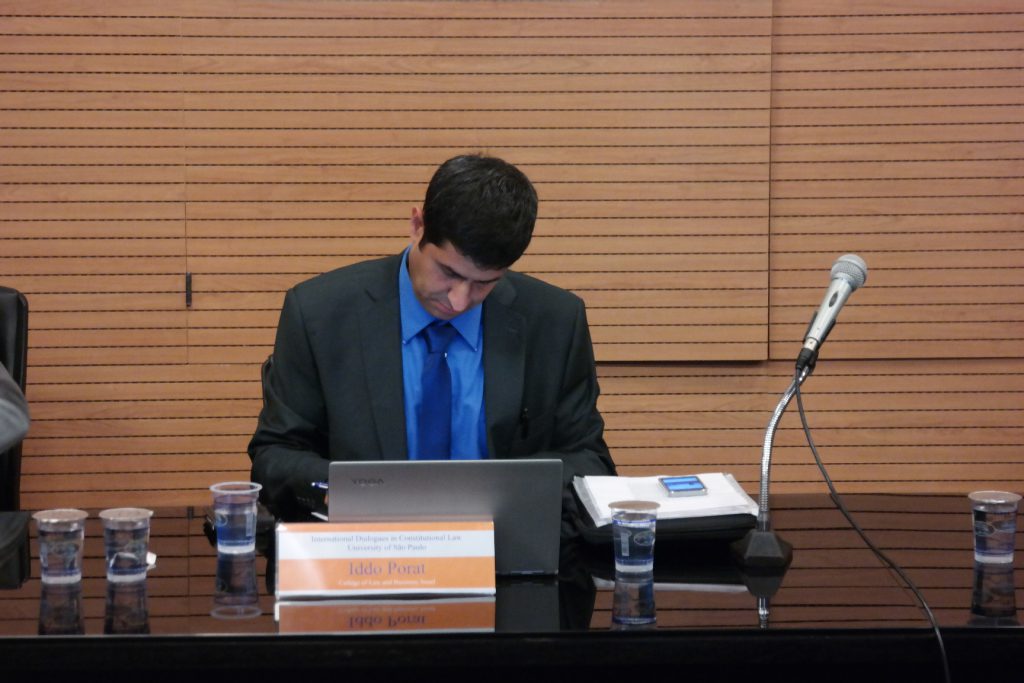A série International Dialogues on Constitutional Law recebeu Ralf Poscher, da Universität Freiburg. Ele falou sobre direito à reunião, a partir de sua experiência na elaboração de um código-modelo sobre direito de reunião na Alemanha.
Para Poscher, a característica central do exercício desse direito está na presença física do manifestante: ele usa seu próprio corpo para defender suas ideias, o que diferencia esse tipo de manifestação de outras formas de expressão (por escrito num jornal, por exemplo). É essa exposição do corpo do manifestante justifica a proteção especial, além da própria liberdade de expressão.
A regulação desse direito deve ter em conta esse aspecto acima de tudo, ele defendeu: ainda que sejam admitidas restrições necessárias para evitar dano e violência, esse tipo de consideração só entra em jogo num segundo momento. O objetivo primeiro da regulação deve ser assegurar e facilitar a liberdade de reunião.
A lei, então, deve respeitar a autonomia da manifestação: os organizadores devem ser livres para escolher o objeto, o momento, o trajeto e a forma de organização da assembleia. Por isso, o código-modelo admite até mesmo manifestações sem líderes ou organização formal, embora preveja um tipo de reunião em que há um líder responsável por tomar decisões que obrigam os demais participantes. A polícia, nesses casos, só intervém depois de acionar a liderança para tentar resolver alguma situação (retirar algum manifestante desordeiro, por exemplo).
O código-modelo também prevê que os organizadores têm de comunicar a polícia com 48h de antecedência da manifestação, sob pena de cometerem contravenção penal. Esse previsão é excepcionada no caso de manifestações espontâneas ou convocadas com menos de 48h.
A polícia só pode interferir na manifestação quando há um risco iminente e concreto à segurança pública. Isso significa que especulações sobre risco em abstrato ou mesmo riscos de ilícitos desimportantes não permitem a intervenção policial, explicou Poscher. E a manifestação só pode ser dispersada depois de uma decisão formal da polícia de que não há outra forma de evitar danos. Só a partir dessa decisão, depois de ter dado tempo razoável para que os manifestantes se dispersem, é que a polícia pode atuar livremente, segundo as normas ordinárias de policiamento.
A princípio, defendeu Poscher, também se permite que os manifestantes usem máscaras e vestir peças reforçadas para proteção. A ideia é as pessoas podem precisar se valer disso para exercer a liberdade de reunião, usando máscaras para evitar represálias pela manifestação e peças reforçadas para se proteger contra outras pessoas que se aproveitem da exposição de seus corpos para atacá-las. Reconhecendo que essas peças podem ser usadas também para o fim de facilitar ilícitos, a polícia pode determinar sua remoção, por meio de uma decisão formal que pode ser posteriormente discutida em juízo.
Regras semelhantes se aplicam no caso de manifestações em locais abertos de propriedade privada: se eles são usados para circulação pública como ruas e parques, a realização da manifestação não depende de consentimento do proprietário.
Poscher destacou ainda que, embora essas norma sejam importantes para garantir a liberdade de reunião, tão importante quanto elas é que a polícia tenha uma cultura democrática e com noção clara de que sua responsabilidade profissional é proteger manifestações, em vez de limitá-las.